Às vezes tenho a nítida sensação de que estar no meu emprego é o mesmo que estar numa sitcom.
quarta-feira, 17 de junho de 2009
sexta-feira, 12 de junho de 2009
Huf...!...ts-ts-ts.... pois é...
terça-feira, 2 de junho de 2009
A velha Singer
 Existe uma máquina de costura, lá em casa, que me conta coisas sem falar comigo. Faz parte da família.
Existe uma máquina de costura, lá em casa, que me conta coisas sem falar comigo. Faz parte da família. É uma Singer a pedal de cabeça preta com desenhos dourados, lascada pelo tempo e por ter passado por todas as mulheres lá de casa. Também passou pelas mãos do meu pai, que a arranjou sempre que tinha um problema.
Balançando com o pé no pedal que puxa a correia que já foi arranjada e rearranjada inúmeras vezes, faz girar uma grande roda que acciona todo o mecanismo.
Pés de ferro trabalhado e pintado a castanho, tampo da mesma cor, por baixo do qual está uma alavanca negra, forrada a esponja para não magoar o joelho direito com que a empurramos, para levantar o calcador.
Tem uma gaveta do lado esquerdo com o puxador prateado a cair, em forma de bola com mossas do tempo, onde se guarda a melhor tesoura da casa, junto com algumas peças que não servem para nada, mas que um dia poderão servir.
Gosto de ver as linhas a percorrerem em espiral os distribuidores, desde o caneleiro até à agulha que perfura o tecido e o cose, habilmente, ao ritmo do pé, travando ou rematando com a roda de mão.
Tem o cheiro acre da madeira antiga, e o vigor mecânico e ritmado de uma máquina que, por ser simples, se manteve a trabalhar ao longo das décadas. Naquele tempo não se pensava na reforma.
Sempre me lembro de ser guardada sob uma cortina grossa de sarja verde com flores rosa, um romântico estampado rematado por um folho, costurada de propósito para o efeito.
Lembro-me dela morar durante muitos anos n’«aquela casa», uma grande sala que foi parte da primeira fábrica do meu pai que, depois de mudar para outras instalações, passou a funcionar como um anexo da casa onde a minha mãe tratava da roupa.
Ficava muda sob a janela de ferro e vidro martelado, por onde escorria a luz amarelada do sol ou, estando aberta, entravam as flores regadas de fresco rodeadas de abelhas, até que alguém viesse conversar com ela, com um fecho para mudar ou uma baínha para coser.
A minha mãe bordou nela, a bastidor, grande parte do enxoval, flores, ramagens e monogramas em panos e lençóis brancos com cores mais garridas ou mais discretas, que depois engomava e guardava na arca para só usar nos dias de festa, ou, não chegando a ocasião, ficar de herança para as filhas.
Foi também alvo das atenções da minha irmã que, habilidosa e criativa, no inicio às escondidas, conquistando depois a autorização para a manusear, fazia nascer matrafonas de algodão branco, com vestido e touca a preceito que fazia de restos de tecido debruado a rendinhas que tirava da velha lata azul das bolachas, e de onde tirava também as fitas de seda que atavam as tranças de lã com que fazia os cabelos. Ao lado da lata azul, estava sempre a lata cor-de-rosa dos bombons, casa dos botões de variadíssimas formas e cores, mais ou menos diferentes, alguns novos à espera de uso, mas na sua maioria aproveitados de roupas que se desmanchavam e que eu conhecia muito bem.
Obedecendo à tradição familiar, foi-me permitido também aprender a coser à máquina, a controlar o balanço do pedal, devagarinho... mais depressa... usando a mão para travar a roda ou rematar, e assim conversar com a velha Singer.
Em casa dos meus pais, sempre houve máquinas de costura ao meu redor, mais ou menos sofisticadas, umas que nunca avariavam, outras que nunca funcionavam bem. Mas aquela máquina de costura atingiu, pela sua herança, pela sua antiguidade, o estatuto de relíquia, um valor sentimental e intransmissível, como a presença de várias gerações.
terça-feira, 26 de maio de 2009
A FELICIDADE É A CAUDA DO CÃO

O cão costumava correr atrás do gato, e o gato costumava subir ao muro alto do jardim para fugir do cão. Era uma canseira.
O cão andava sempre agitado, quando não era atrás do gato, era a fazer buracos no jardim, ou a correr atrás da sua própria cauda até cair para o lado. Depois descansava um pouco e recomeçava tudo de novo.
Certo dia o gato, no seu refúgio no alto do muro, estava a observar o cão naquela tarefa intrigante de perseguir a própria cauda, quando finalmente a curiosidade venceu o medo, porque os gatos são mais curiosos do que medrosos, e resolveu perguntar:
- Psssst... Cão... ó Cão. Cãao!!!... Hei!
- Que é que foi, ó Gato? Não vês que estou ocupado?!
- É só uma pergunta!!!
- Tu queres perguntar-me uma coisa?!? Ora essa...!
- Desculpa lá, estou para aqui a pensar... o que é que tu estás a fazer?!?
- EU? Então não vês?! (Este gato é mesmo estúpido!) Vou explicar: Vês isto aqui atrás? Isto que abana?! É a minha cauda e assim que vou atrás dela, foge e não consigo apanhá-la... por mais voltas que dê, quando estou mesmo quase a tocar-lhe, foge logo!... Mas hei-de conseguir um dia.
- E para que é que a queres apanhar?
- Para quê?! Porque nunca a apanhei e quando conseguir vou ficar muito feliz! Ora para quê!
- E o que é que fazes com ela depois?
- Então, depois... depois apanho-a outra vez, e outra, e outra...
- É por isso que corres atrás de mim, para apanhar a minha longa cauda de gato?
- Claro! Quando trincar a tua rica e longa caudinha e a fizer curta como a minha, vou ficar mesmo muito contente, vais ver!
- Oh Cão, desculpa lá, mas tu és um palerma!
- Eu?! Palerma?!? Que atrevimento! Se eu conseguisse subir o muro, arrancava-te já a cauda para veres como é! Palerma...!
- É o que tu és. Isso não faz sentido nenhum, e se não consegues perceber porquê, eu explico.
- Ai é? Então explica lá, a ver se me convences.
- Bem... se tu andares em linha recta, assim como quando corres ou fazes buracos, onde está a tua cauda? Vai atrás de ti, não é?
- Sim, claro...
- Então quer dizer que se ela vai atrás de ti, é porque já te pertence. E se te pertence, é tua, não precisas de a apanhar, ela vai sempre atrás de ti para onde fores. Não és mais feliz assim?
- Bem, ó Gato... assim... em linha recta.... hum, lá isso parece que sim... eu ando... olha! Vem cá atrás!... acho que tenho de te dar razão... mas espera lá, e a tua?
- A minha? Se eu andar para a frente, ela vai comigo. Mas se quiseres, também pode ir contigo, a escolha é tua.
- Minha?! Como é que a podes deixar ir comigo?
- Podes escolher: se me continuares a perseguir, a minha cauda vai estar sempre à tua frente, mas se me deixares caminhar contigo, ela vai connosco.
- Olha, Gato, pensando bem, acho que tens razão... surpreendeste-me! Porque é que não desces daí e vamos passear os dois?
- Tens a certeza que não me vais morder?!
- Sim, claro que tenho. Assim, em vez de perseguir uma cauda, ficamos com duas (e a tua ainda é mais longa!) que vêm atrás de nós. Para dizer a verdade, já começava a ficar farto de andar às voltas e encontrar sempre o meu próprio rabo...
A partir desse dia, Gato e Cão caminharam juntos até ao pôr-do-sol... e para além disso.
Tal como a cauda do cão, assim é a felicidade: já a temos, só nos falta a atitude de sermos felizes.
quinta-feira, 21 de maio de 2009
quarta-feira, 20 de maio de 2009
Evolução
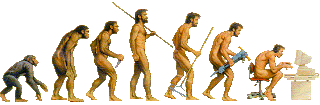 Todos os dias me devia sentar em frente ao computador e escrever um pouco que fosse. Devia ser assim, disciplinada, regular, certinha, atilada.
Todos os dias me devia sentar em frente ao computador e escrever um pouco que fosse. Devia ser assim, disciplinada, regular, certinha, atilada.Mas não sou.
Sento-me ao computador, escrevo só quando me dá na bolha, e muitas vezes nem sei muito bem acerca do quê.
Ainda por cima, num dia de sol tão morninho, eu podia ir lá para fora, onde a vida realmente acontece, mas não, fico aqui a premir as teclas nem sei bem para dizer o quê.
Tenho é vontade de juntar letras, juntar palavras, juntar migalhas a ver se dá um bolo. É o que se chama de «começar ao contrário».
O que interessa é começar.
Tal como diz na Bíblia, esse grande best selller de inúmeras edições, «No princípio era o verbo». Contrariamente à ambiguidade do que se interpreta na Bíblia, o que se passa na minha cabeça é muito linear. Não tenho um só verbo, mas muitos verbos, muitos sujeitos, nomes e artigos que tento alinhar numa articulação gramatical que se perceba.
Até agora, demasiado confuso.
Tudo bem, também não sei para onde vou. Nem de onde venho.
Não faço ideia onde este texto me vai levar, parece que comprei um bilhete sem destino. E se alguém que está aí me lê, então está a viajar comigo neste passeio que dá a volta ao quarteirão da minha cabeça.
Tendencialmente, nessas voltas ao quarteirão, acabo por quase sempre encontrar algo conhecido. Raramente é o que interessa, ou quem pensamos que interessa.
Confesso que gostava de poder viajar nos pensamentos dos outros, atravessar a porta dos seus pensamentos e manter-me tal e qual como no National Geographic da mente humana, atrás de um arbusto de neurónios. É demasiado indiscreto, eu sei, e por isso a natureza teve o bom senso de nos manter assim, fechados dentro das nossas caixas cranianas, no nosso corpo com as nossas limitações. Felizmente não evoluímos assim tanto... vida unicelular – macacos - homem. E a diferença do 2.º para o 3.º não é assim tão grande.
Considero-me uma darwinista, alguém que acredita que vimos de uma evolução de milhares de anos para servir de elo de transmissão do código genético, que lega a uma próxima geração as informações que são precisas para continuar a existir face às condicionantes do meio onde vive.
A teoria da evolução por selecção natural traz-me algum conforto, e explica-me por hipótese uma série de coisas que de outra forma eu não conseguia entender.
Coisas simples, básicas e generalistas, como a capacidade do homem se orientar no espaço e a mulher ser capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo – o macho orientar-se-ia no terreno de caça e a fêmea ficava com as crias;
Porque é que as mulheres são capazes de ter vários orgasmos e os homens depois de terem um adormecem de seguida, ou, ainda mais abrangente, porque é que existe infidelidade – para assim que a fêmea acabar de acasalar com um, possa passar para outro de forma a garantir uma gravidez... e para que o macho possa propagar a prole em competição com os outros machos;
Porque é que as mulheres desenvolvem o instinto maternal e o homem o desportivo – porque elas são responsáveis pela sobrevivência da cria e eles defensores do território.
De todos estes exemplos conheço as excepções, e todos eles existem devido à lei da propagação da espécie e ao evolucionismo. Instintos básicos herdados de uma sociedade que não estava ordenada com os valores que conhecemos agora, mas segundo as regras da sobrevivência.
Com o tempo fomos progredindo, eliminando em percentagem as ameaças à sobrevivência da raça humana até sermos O animal dominante, organizámo-nos em religiões, filosofias, políticas, economias, numa sociedade cada vez mais complexa e evoluída tecnologicamente.
Os homens deixaram de caçar, as mulheres saíram de casa para trabalhar, os filhos ficam no infantário, todos saem das suas casas com elevador, banheira de hidromassagem, gás canalizado, TV cabo, internet, ar condicionado... aprendemos o alfabeto, aprendemos línguas, aprendemos a premir as teclas do computador, a juntar letras que formam palavras que são frases que nos trazem até aqui, de regresso à volta do quarteirão, a este momento, onde estou eu.
terça-feira, 19 de maio de 2009
Desabafo de um amigo no meu e-mail
segunda-feira, 18 de maio de 2009
Voltar a casa

O bom de sair de casa por alguns dias é sabermos que no regresso temos o conforto do nosso lar, do nosso ninho, do nosso canto.
Não é que não goste de sair, gosto muito de passear, alimentar os olhos e a alma, andar por outras terras, cheirar outros ares e saborear novos sabores, mas o regresso à roupa que cheira a nós é quase como o regresso ao conforto do ventre materno.
Lisboa não é o meu ventre materno, mas é onde deito a cabeça na almofada. É uma cidade que me aceitou e onde me diluí, onde me sinto portuguesa.
Gosto das colinas e de não conhecer tudo, gosto da parte antiga, das pedras cinzentas, dos bairros e ruas estreitas, de por vezes ouvir o fado na baixa, dos edifícios que contam histórias e do azul do Tejo.
Quando venho de longe e me aproximo da cidade, à noite, observo toda aquela vida que se espalha pelo monte, parece um guarda-jóias de onde se desfiam fios de missangas em luz que são estradas e casas e gente nos seus mundos.
À medida que avanço estrada fora, cidade dentro, sou engolida por aquela massa de vida, carros que passam, semáforos e lojas fechadas, cartazes, caixotes do lixo, jardins e centros comerciais, ordenados, espalhados, e sinto-me plena na minha quietude por fazer parte desta cidade... e poder sair dela.
(imagem retirada de http://www.fotodependente.com/img13427.htm)
terça-feira, 12 de maio de 2009
O Giga Prémio de Invenção de toda a Humanidade, Universo, Arredores e Etecetera

Hoje pus-me a reflectir acerca do que é para mim a mais maravilhosa invenção do homem, aquela que melhora significativamente a qualidade de vida, que nos dá conforto, que é ao mesmo tempo objecto de apurado design e de grande simplicidade, o engenho ao qual daria O Giga Prémio de Invenção de toda a Humanidade, Universo, Arredores e Etecetera.
Assim, cheguei à conclusão que, deixando em segundo lugar a roda, o troféu vai para...(rufar de tambores)... a sanita. Também há quem chame retrete, latrina, sentina, privada... eu chamo sanita.
Haverá sítio mais intimista ou lugar mais privado para baixar as guardas da nossa roupa interior e nos sentarmos?
Acredito que os que se usam dela e se despacham num instante também a valorizem muito, mas não tanto como os que, antecipando o momento de alívio, metem debaixo do braço o livro, ou o jornal, ou a revista, ou o folheto do hipermercado ou até, já tenho visto, o computador portátil. Assim sim, sabemos que se vai desfrutar de uma oportunidade de profunda reflexão, cultura, informação ou criatividade, um instante mais do que nosso naquele templo onde cedemos às necessidades e instintos básicos da natureza, ao mesmo tempo que nos distanciamos dela, onde somos reis do nosso reino de reduzidos metros quadrados, sentados num higiénico e confortável trono de porcelana, com a segurança de um macio rolo de papel higiénico.
E aí, cedendo ao impulso dos músculos, no êxtase fisiológico, fazemos o que temos a fazer, até ao arrepio final, sem preconceitos nem pudor ou preocupações com cheiros, barulhos ou trejeitos de expressão que nos envergonhariam em qualquer fotografia.
É a libertação total! E como a valorização deste objecto cresce proporcionalmente à vontade de o utilizarmos!
Por mais evoluídos, por mais educados, cultos, sofisticados ou endinheirados que sejamos, teremos sempre de obedecer ao ciclo natural da alimentação, ingestão, digestão, flatulência, micção e defecação. Por mais escatológico que nos pareça.
Em suma, a sanita, que também se pode chamar retrete, latrina, sentina, privada... encerra o paradoxo de que a nossa humanidade também reside no facto de sermos o único animal à face da terra que tem um local próprio no seu habitat para tratar das suas necessidades mais íntimas, ao mesmo tempo que a nossa natureza animal se vincula no aspecto em que da fralda ao fraque, todos dão traque.
Agora, meus amigos, lanço-vos o desafio: a que atribuiriam este prémio?
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Há dias que esta música não me sai da cabeça...
... e , para não variar, gostei muito do filme.
quinta-feira, 7 de maio de 2009
Vetustas vicem legis obtinet
terça-feira, 5 de maio de 2009
Vó Julha

Hoje acordei com os olhos inchados e quando me vi ao espelho lembrei-me da minha avó paterna.
A minha avó tinha os olhos grandes com pestanas curtas como as minhas. As pestanas curtas devem ter sido a única herança genética que ela me deixou, mas em contrapartida acompanhou-me durante os primeiros 19 anos da minha vida.
Era uma mulher forte de corpo e carácter, sábia e paciente, de cabelo muito branco cujas ondas vincava cuidadosamente com a parte lateral da mão. Peito grande e ancas largas, anunciava a sua presença sempre com um sonoro «Hei!»
Cheirava sempre a lixívia e ao sabão azul e branco com que lavava a casa, e ao Feno de Portugal ou a Lux com que se lavava. Guardava, «para dar cheirinho», sabonetes Rosalface, que eram de luxo, juntos com as melhores roupas e o nosso enxoval, meu e da minha irmã, repartido por igual para que não houvesse desavenças. Porque ela era uma mulher de paz e do povo, que não queria dar trabalho a ninguém.
Trabalhadora e respeitada, uma boa mulher que enchia a casa com a sua presença.
Comentava as novelas como se da vida real se tratasse, e quando um de nós precisava de uma consulta, ia mais cedo para o centro de saúde aguardar vez para que não tivéssemos de nos levantar tão cedo.
Quase sempre trazia um presente dentro de um saco de plástico para as «suas meninas». Um pacote de batatas fritas, um Bollycao, uma pastilha Gorila, um pacote de Capri-Sonne ou, às quartas feiras quando ia ao mercado, um bolo de massa ou um pacote de pevides que descascava pacientemente num montinho que punha em cima do joelho, sobre a bata de flores castanhas que vestia, para depois eu pegar e meter tudo de uma só vez na boca.
Se acaso a minha avó não fosse naquele dia lá a casa, vinha o meu avô saber notícias nossas, e o recado que lhe enviávamos, e que ele fielmente entregava, era sempre o mesmo: «Um beijo prá Vó Julha»!
Tudo o que as netas fizessem era para ela um grande motivo de orgulho que comentava cheia de pontos de exclamação... «Olha-me estas mãos tão lindas!!!», «Que falas tão lindas que ela disse agora!!!»... e ora me beijava as mãos, ora me dava beijihos na «covinha do ladrão».
Se eu fazia um disparate qualquer, dizia «Ai, a rapariga parece que está dôda!».
Quando havia festa, trazia sempre o seu fofo pão-de-ló, muito amarelo por dentro, com uma crosta durinha que barrava com manteiga e onde espetava amêndoas torradas, deixando as restantes no buraco do bolo. Às vezes ficava o bolo cheio de buracos das amêndoas que íamos tirando e roendo.
Quando ia almoçar a casa dela, no final da refeição oferecia-me sempre uma chávena de café Pensal que eu adoçava com açúcar amarelo, numa chávena e pires de porcelana castanha escura, sentindo-me uma pessoa crescida.
No Natal fazia os cuscorões lêvedos, que amassava no alguidar verde de barro, com afinco, honrando o jeito que aprendera com a sua mãe padeira. Eu ia ajudá-la a fritar alguidares de cuscurões, no fundo só punha o açúcar, mas ela elogiava esta tarefa como se fosse a mais importante do mundo, e dizia «Serviço de menina é pouco, mas quem o perde é louco.»
Era uma optimista que tinha sempre as suas frases de conforto: «Ó filha, deixa lá, podia ser pior. Hora a hora, Deus melhora.»
Fugiu de casa, onde tinha mais 6 irmãos e a mãe sob a alçada de um pai tirano, para casar com o meu avô. Passados 50 anos baptizou-se e voltou a casar-se , desta vez por igreja. Eu, a minha irmã e a minha mãe, fomos as madrinhas.
Dizia-me, quando se falava de namoros e rapazes, uma lição que guardo com valor: «Nunca te cases com um homem que não gostes. Já quando se gosta é difícil.» Acho que ela ia ficar contente por a ter ouvido.
Hoje fui ao super-mercado, às vezes aproveito a hora de almoço para fazer umas compras, e andei um pouco pelos corredores. Parei em frente à prateleira dos sabonetes e peguei num. Como o Rosalface me cheirou a saudade!
segunda-feira, 4 de maio de 2009
Um título simpático...
.jpg)
.jpg)
generosamente oferecido pelo F3lix, que agora penduro nesta parede. Passa-lo-ei à Rainha do Nada, Ao fundo da minha Rua, Aqui mando Eu, Bichos do Conto, Egocentrismos, Graphic_Diary, Mil Novecentos e Oitenta e Qualquer Coisa, O Espírito do Tai Chi, O Regresso do Buck Jones, Sud Express.
Mãe
«Prende o cão antes de saíres.
Deixa ficar a janela da casa de banho como está para o gato sair.
Leva o chapéu de chuva, está na cadeira.
Beijocas, Mãe.»
quinta-feira, 30 de abril de 2009
1.º de Maio
E é isso... no dia do trabalhador, ninguém trabalha.
Não há muita lógica nisto, mas significa um fim-de-semana de tamanho L!
E quem me conhece sabe que me sinto muito mais há-vontade com tamanhos grandes.
quarta-feira, 29 de abril de 2009
terça-feira, 28 de abril de 2009
Já foi há mais de 12 anos...

Lembro-me do tempo ser longo, das conversas intermináveis, do fumo do incenso que rodopiava e subia pelo ar ficando no tecto misturado com as argolas dos cigarros que ardiam noite dentro e se apagavam no cinzeiro baixo de barro trazido de um bar qualquer.
Das portas que abrimos nas almas uns dos outros, das portas que se abriam de madrugada, dos sorrisos, dos risos, das gargalhadas, dos dramas, das discussões de impaciência, da partilha incondicional, das conversas cruas sem máscaras nem julgamentos de valor, dos diálogos no jardim ou em frente ao aquário.
Lembro-me da música que nos acordava pela manhã, fosse a que horas fosse, das disputas de congelador, das contemplações na varanda, da comida de pobre nos saber a gourmet de rico, dos jogos com o multibanco e de sermos felizes, do entusiasmo por descobrir um filme novo, da paixão por um autor, de sermos arrebatados por uma música, das paixões por sermos nós.
Lembro-me de um cortinado às riscas, de castiçais e velas, de nada dar com nada a não ser com a nossa vida, de gostarmos porque sim, do cotão debaixo da cama, do cortinado da casa de banho e do braço com unhas negras.
Lembro-me de coleccionarmos recordações na tralha que trazíamos para casa para nos pegarmos ao mundo, dos poemas, dos desenhos, das imagens pela parede, das festas e do cheiro dos perfumes.
Lembro-me da morte e ressurreição por amor, e do resto que guardámos, que é muito mais do que foi, continuarmos a ser nós.
Deixo aqui um pouco do que passou por nós.
sábado, 25 de abril de 2009
Festas e feriados...que mau feitio!

Gosto dos feriados como qualquer outra pessoa, mas gosto muito mais quando calham colados ao fim-de-semana e o dilatam para um tamanho L ou XL... Por isso é que estou aborrecida.
Temos 365 dias no calendário diponível para marcar feriados, e quando é que calham? Ao fim-de-semana.
Os feriados não deviam ser acumuláveis com fins-de-semana, é como as promoções, se temos um talão-desconto, não é acumulável sobre uma coisa que tem desconto, toda a gente sabe isso.
Excepto a Repsol que acumula os descontos com o cartão do Benfica. E às vezes a La Redoute.
Depois não percebo porque é que, quando o dia tem 24 horas, se lembram de deitar foguetes assim que as zero horas saltam no mostrador do relógio, porquê?!? Quem é que àquela hora festeja seja o que for de pantufas e roupão, olhos remelentos enquanto se tenta acalmar por ter acordado no que mais parece um filme do Rambo?! Se eu aumentasse um décibel da minha televisão que fosse, arriscava-me a ter a polícia à porta, mas como é a junta de freguesia, já se pode, é o feriado, e não reclames que parece mal, até parece que tens alguma coisa contra o feriado.
Claro que não tenho, mas porque é que, nas outras horas do dia não se ouve um pio? Está sol, estamos todos vestidos e acordados, talvez até sem grandes planos para o dia, bora lá festejar que nem uns perdidos como se não houvesse amanhã!... nada? Nem um foguetezinho sequer?
E depois quem tem mau-feitio sou eu.
sexta-feira, 24 de abril de 2009
O 25 de Abril, 32 anos depois

25 de Abril... Há tanta coisa para dizer do 25 de Abril. A sério, há mesmo.
Infelizmente só posso falar daquilo que sei. E o que eu sei de verdade é que nasci há 32 anos, depois da revolução dos cravos.
Eu não gosto de política, assumo que é um tema que me aborrece profundamente, porque não acredito na forma como é feita, na sua isenção e no seu propósito de servir o povo. Sinto que o objectivo primário do político é estender a sua toalha na melhor praia que conseguir, e daí começar a construir um condomínio privado.
Acredito que existem políticos bons no meio dos maus, da mesma forma como acredito na excepção que confirma a regra. Não acredito é que existam políticos realmente bons, porque os ideais são... muito fraquinhos.
Toda a vida ouvi os meus pais falarem do antes do 25 de Abril, especialmente quando esta data se aproximava.
O meu pai conta que queria ir à Suécia tratar de negócios e não o deixaram ir porque viajar era uma coisa muito complicada e sujeita às vontades de terceiros. Principalmente terceiros que tinham poder por andarem de braço dado com o regime.
A minha mãe conta-me acerca do medo por ouvir a Rádio Moscovo, num rádio de madeira que furava a opressão em bom som lá do alto da prateleira dos copos e garrafas da taberna do meu avô, e de a minha avó reclamar da loja ao lado, Baixa isso, ai Jesus que ainda te vêm buscar, enquanto os homens, sentados nos bancos de madeira com um copito de vinho assente sobre a toalha de plástico, a mandavam calar para ouvirem melhor.
Contaram-me também acerca das pessoas que falavam contra o regime, que eram levadas pela PIDE, as torturas e humilhações a que eram sujeitas, e depois, se eram libertados, a exclusão social pelos mais próximos como se clamar por liberdade fosse alguma doença contagiosa.
Mesmo assim acho que talvez o que tenha sido o gatilho para a revolta do povo que é brando, foi o cansaço de perder os mais próximos na guerra, uma guerra que até hoje ninguém sabe qual foi o seu verdadeiro significado.
Quase todas as famílias têm alguém que esteve lá fora a lutar pelo país. Eu tenho o meu pai, acho que nunca vou saber até onde o devastaram os traumas de guerra, nem aos que ficaram cá à espera de notícias e que regressasse bem.
Há uns anos atrás levaram-me ao forte de Peniche, visitei as celas onde punham os presos políticos e a solitária que emanava a tortura e a opressão daqueles tempos. Lembro-me do chão ainda manchado. Vi também os desenhos do Álvaro Cunhal, ou Cabeça Branca, como lhe chamavam os meus avós. Vi o plano de fuga, que me pareceu difícil e arriscado. Para alguém arriscar a vida daquela maneira ao fugir do forte é porque a vida dentro do forte não era nenhum prato de arroz doce.
Acho que aquela visita foi o mais próximo que tive antes de Abril de ’74.
Sei que foi um acontecimento marcante, que deu liberdade ao povo e que os que o viveram ainda hoje vibram intensamente por terem participado num momento histórico. Conheço-o, mas por muito que o expliquem não o compreendo da mesma forma que eles, e para mim é um momento tão distante quanto o 5 de Outubro de 1910.
Porque não o vivi.
Por muitos livros que se leiam, por muitos filmes que se vejam, por muitos cravos que nos ofereçam, por muito que ouçamos cantar o Zeca Afonso, ou por muitas manifestações onde vamos, nós, da geração pós 25 de Abril, nunca saberemos valorizar na sua plenitude esta data. Não é que não queiramos, mas não conseguimos.
Apesar disso, sabemos que não queremos viver oprimidos, contraídos, com medo do próximo e submissos à vontade alheia, e por isso é bom lembrar: 25 de Abril, sempre!
terça-feira, 21 de abril de 2009
Maria

A minha Maria foi um pequeno milagre que apareceu sem ninguém pedir, a peça da engrenagem que faltava para dar sentido a muitas coisas, e a chave de muitas alegrias.
É Maria como as outras e tem outro nome como o meu. Fiquei muito orgulhosa porque o nome é um pedaço de nós e ela assim tem um pedacinho meu que lhe pertence para sempre que a vai fazer lembrar-se de mim mesmo quando eu já cá não estiver.
A minha Maria é alegre, sorridente, simpática, inteligente, esperta, desinquieta, barulhenta, faladora, generosa, compassiva, destemida, energética, trepava a tudo, partia tudo, fazia birras cheias de lágrimas, dava gargalhadas cheias de cócegas, e quando estava a aprender, olhava-me atenta, com aqueles olhinhos muito abertos redondinhos e arrebitados nos cantos, como duas vírgulas.
A minha Maria começou careca, cabecita de pêssego, para ganhar anéis torradinhos, e depois um abundante e lindo cabelo cor de castanha de gente grande.
Gostava de lhe dar beijinhos no nariz, entre os olhos e as sobrancelhas macias, e de a adormecer nos meus braços, enquanto me agarrava o dedo com a mão quente rechonchuda e macia, até o largar, ficando abandonada aos sonhos e ao mundo, e eu a respirar aquele cheirinho a bebé delicado.
A minha Maria sempre gostou de experimentar as palavras e por isso falava até as esgotar, de experimentar os raciocínios, de experimentar os sabores, de experimentar as texturas, de gritar e cantarolar, articulando os lábios muito bem desenhados a lápis cor-de-rosa.
A minha Maria gostava de cor-de-rosa mas agora gosta mais de outras cores, gosta de massa, de gomas, de fazer bolos, e de brincos-de-princesa.
A minha Maria chama-me sempre por aquela palavra única, que me faz sentir saudades e procurá-la pelo canto do olho quando ouço outra criança dizê-la.
A minha Maria era pequenina e ficou grande depressa demais, mas para mim é sempre pequenina, sempre minha e sempre Maria.
sexta-feira, 17 de abril de 2009
No tempo dos luze-cús
 Voltou a chover e a fazer frio.
Voltou a chover e a fazer frio.É giro ver como o que é bom me deixa logo mal habituada, e os primeiros dias de primavera com calor chegaram para esquecer o frio de todo o inverno.
Gosto muito de calor. Se há coisa que eu me lembro, é das noites de verão quando era garota, em casa dos meus pais. Era tão bom!
Os serões eram longos, e após o hino que marcava o fecho da televisão (que foi a preto e branco durante muito tempo) às 22h, passando para a mira técnica, a noite ainda era uma criança. Íamos para o quintal, nas noites quentes, espalhávamos uma manta de trapos pelo chão e os almofadões, e ficávamos por ali.
Como o portão só era fechado quando íamos dormir, as vizinhas que passavam entravam e ficavam à conversa com a minha mãe, as minhas avós e a minha tia. Discutiam animadamente a novela como se da vida familiar se tratasse, e imitavam-se os tiques, maneiras de vestir e penteados das actizes que faziam o papel de boazinhas. As más ou loucas tinham sempre um ar extravagante ou fora de moda, lembro-me por exemplo da Fedora, na novela «Sassaricando» que usou um vestido de noiva preto e outro vermelho, e que com isso chocou toda a gente.
O cheiro a verão e às ervas acabadas de regar era delicioso e fresco, e eu entretinha-me a apanhar «luze-cús», só mais tarde é que soube que se chamavam pirilampos. Eram tantos e tornavam a noite tão mágica! Prendia-os num copo, e a minha mãe, depois de eu me deitar, libertava-os e punha no lugar uma moeda escura de 50 centavos.
O meu pai gostava muito de ouvir cantar os grilos, volta e meia apanhava um e punha-o sobre uma folha de alface numa pequena gaiola quadrada de plástico amarelo, para que cantasse a noite toda.
Deitada no chão, contava as estrelas e afastava as melgas, e em noites mais inspiradas as minhas avós contavam as histórias do tempo delas.
Quem gostava muito de contar histórias era o meu tio-avô, foi através dele que conheci «Os 3 porquinhos», «A Gata Borralheira», «O Capuchinho Vermelho» e «A Bela Adormecida». Mas ele tinha a particularidade de saber «Os Lusíadas» de cor, e remetava sempre as histórias com um poema de Camões, por vezes dos grandes. Na altura não sabia quem era Camões, e porque é que o meu tio gostava de falar num português tão estranho... a pouco e pouco ia-me desviando das atenções dele que, entusiasmado, ficava a declamar sozinho.
Também era muito frequente ficarmos sem electricidade, só tínhamos as luzes modestas e brancas da rua, e ficávamos por ali a conversar e a deitar água no chá à medida que este se bebia até a luz voltar e a água ficar clara.
Naquela altura, os serões eram longos e havia tempo para crescer. Será que hoje ainda há luze-cús?
quinta-feira, 9 de abril de 2009
quarta-feira, 8 de abril de 2009
Uma espera
 Uma espera «forçada» - já que espero apenas porque quero - é a causa porque me dirijo para o centro comercial Campo Pequeno.
Uma espera «forçada» - já que espero apenas porque quero - é a causa porque me dirijo para o centro comercial Campo Pequeno.É um edifício que sempre me fez lembrar mais os palácios dos contos infantis, na sua forma redonda cor de tijolo rematadas por cúpulas e torreões verdes de estilo neo-árabe, do que uma arena para torturar toiros.
Também é o sítio que geograficamente me está mais à mão, ou melhor, ao pé, já que é por este meio que me desloco, para esperas.
Habitualmente passo por lá em marcha automática, mas hoje tenho tempo para me dar ao luxo de gozar o caminho, e respiro fundo para abrandar.
Saio do passeio de calçada e entro pelo caminho de terra batida que serpenteia entre o jardim. Sinto um movimento do meu lado direito e vejo um pardal que se balouça numa flor invulgar que me lembra uma escova de lavar garrafas, com a haste verde e as cerdas vermelhas. Sinto pena por não ter uma máquina fotográfica pronta a registar a imagem. Devia haver uma tecnologia qualquer que tirasse da nossa mente os ficheiros que registamos para podermos partilhar com os outros.
Detrás de um arbusto sai um canzarrão pardacento e esguio que apressa o passo pachorrento para se desviar de mim. Passa por um banco onde está um casal de namorados que transferem o resto do mundo um para o outro com um beijo.
As esplanadas estão com pouca lotação, duas ou três mesas, uma delas composta por alguns estrangeiros que descansam as máquinas fotográficas e aproveitam o final da tarde para beberricar algumas cervejas.
Indiferente, segue gente que se dirige para os transportes, ou que segue pela rua fora, e outra que é engolida pelas várias entradas do centro comercial.
Apesar de fresca e cheia de vida como uma jovem de 18 anos, deixo a tarde lá fora enquanto empurro a porta de vidro para entrar no centro. Sinto o seu bafo morno de cheiro a loja. Percorro um corredor, e dirijo-me para a zona da restauração como se algum sistema magnético me tivesse atraído, há 6 horas que não como.
Levo o meu tabuleiro para uma mesa discreta, e sento-me a mastigar enquanto olho para os plasmas que vão passando informação. O concerto de Emir Kusturica & No Smoking Orchertra (tive um cd que emprestei para uma festa do pessoal lá da terra e acabou por ser roubado); os títulos do jornal «A Bola» supondo que toda a gente gosta de futebol; os horóscopos com Leão favorável a novas relações, Virgem terá de ter cuidado no trabalho e Balança está sujeita a problemas de saúde... não estamos todos sujeitos ao mesmo?
O meu olhar acaba por cair nas pessoas à minha volta. Sou fascinada por pessoas. Cada um de nós é um laboratório de ciências humanas, um mundinho que encerramos em permanente mutação.
Uma bebé vestida de verde que salta animadamente frente a um grupo que a olha com ternura, lembra-me a minha sobrinha na mesma idade;
um casal, ele e ela de cabelos muito compridos, lá em casa devem ser só cabelos pelo chão, eu aborreço-me tanto de apanhar os meus cabelos, principalmente no Outono, caem como as folhas;
dois amigos que chegam, um de fato com ar imberbe e de superioridade, o outro chama-me a atenção pelo seu ar de desespero, os ombros curvados para a frente e as sobrancelhas arqueadas como se fosse desatar num pranto;
ao casal de guedelhudos juntam-se dois rapazes. Devem ser estudantes do Técnico não sei bem explicar porquê, talvez pelas roupas de marca enxovalhadas e o ar de acabado de acordar. Tiram os cadernos das mochilas e começam a trocar ideias uns com os outros. Estranho, deviam estar de férias;
mais escondida, ou camuflados pelas suas figuras indolentes, está uma cena que me provoca algum desconforto. Uma criança que brinca com um carrinho pela mesa fora, a mãe, com ar bastante mais velho e triste, de braços cruzados olha para o infinito detrás dos óculos grossos montados na sua figura roliça e baixa rematada por um cabelo fino e oleoso, enquanto o marido, enfiado num fato que mais parece um saco fechado por uma gravata, mexe nervosamente no telemóvel e faz chamadas. Desviam o olhar uns dos outros como ímanes que com a mesma carga se repelem, num clima de desassossego, de desalento. Podiam ser completamente estranhos, mas chegaram juntos, ele à frente e a falar ao telemóvel, sentaram-se juntos, e agora vão-se embora juntos, ele à frente a mexer no telemóvel.
O meu telemóvel também chama por mim, alguém lá do outro lado diz-me que não sabe quando é que conseguirá acabar o trabalho que está a fazer. Decido ir para casa, já é tarde, o sol está-se a pôr e eu não me sinto muito segura por sair da estação dos comboios à noite. Ponho a mala ao ombro, e apresso o passo. Dirijo-me, neutra e mecânica para fora do centro e junto-me ao trilho de outras gentes. O caminho é agora como um comprimido que tem de ser tomado com um copo de água que não sabe a nada, e chego a casa inundada nos meus pensamentos insípidos.
Imagem retirada daqui.
domingo, 5 de abril de 2009
Conflitos com a moda

Houve tempos em que eu me interessava muito por moda. Até quis ser estilista, na minha cabeça via desfiles inteiros a passar ao som de uma música e tentava correr atrás deles desenhando modelos atrás de modelos. Tudo servia de inspiração, desde a areia da praia até à cesta de fruta na mesa da cozinha.
Gostava muito da elegância da Dior e de Montana, do estilo gráfico de Thierry Mugler (o que raio anda a Beyoncé a fazer com o fato que já foi usado no vídeo Too Funky do George Michael?!?) da simplicidade de Jil Sander, ou da irreverência de Jean Paul Gaultier e de Vivienne Westwood.
A pouco e pouco fui ganhando uma vida e afastei-me deste mundo para um mais real onde percebi que não é a moda que não é feita para mim, mas eu é que não sou feita para a moda.
Se fosse, eu teria 1,90m, 50 kg, e via-se mais ossos do que um frango no fim de ser comido por um bando de adolescentes.
Não me deixei de interessar por moda, mas já não me fascina.
É como aquelas amigas que são muito amigas durante uns tempos até vermos que não temos mais assunto para conversar. Quando nos encontramos até somos capazes de ir tomar um café juntas, mas vivemos bem sem fazer parte da vida da outra.
O meu interesse desceu, literalmente.
Agora sinto mais interesse por sapatos. Adoro ver um original par de sapatos de salto alto.
Mas não para usar. Sou adepta ferrenha de calçado confortável, e só não uso daqueles chinelos de enfermeira ortopédicos que se vendem nas farmácias por vergonha.
Às vezes faço aquela expressão apavorada à Tim Gunn quando abro a minha modesta sapateira do IKEA e reparo que, apesar de estar tão cheia de sapatos monótonos a implorarem por liberdade, não tenho nada para calçar!
Este ano, melhor, desde há 4 anos atrás, porque isto da moda sofre de um considerável jet lag, a moda dos sapatos está como gosto: racional. Pés redondinhos à frente, bem pequeninos e femininos, com cunha e um pouco de plataforma, mas não demasiada para não se confundirem com cascos, e tacão em V, com suporte.
Finalmente parece que estão a desaparecer aqueles sapatos terríveis de saltos fininhos – stiletto - que se metem entre as pedras da calçada, deixando o sapato para trás, o pé descalço no chão e os transeuntes deliciados com o ridículo.
Esses sapatos normalmente têm um formato alongado por uma biqueira fina que se prolonga como se não houvesse amanhã, ou melhor, como se quisessem chegar a amanhã antes de nós! – o scarpin – ironicamente popularizados por Dior e usados por Marylin Monroe. São mais conhecidos por sapatos de matar baratas nos cantos, embora nunca tenha visto ninguém a dar-lhes esse uso.
O problema é que muito pouca gente tem a elegância da falecida, que por acaso até era pitosga e coxa e ficava muito bem de branco. Nunca se deve confiar numa mulher que tem tantas curvas e contracurvas como a Serra da Arrábida e se veste de branco sem ficar a parecer o boneco da Michelin. Quem é que ia olhar para os pés dela?!?
Porque é que nos queremos iludir pensando que estamos a fazer uma bela figura enfiadas nuns sapatos que terminam numa biqueira que se curva e descola da terra como um avião da pista? Será que queremos dar a ideia de que nascemos com o dedo do meio muito maior do que os outros todos, fazendo simultaneamente aquele gesto obsceno e universal semelhante ao que se faz com a mão quando queremos enviar alguém para aquele sítio?!?
Grande parte das mulheres que usam este tipo de calçado, mas grande parte mesmo, parecem pinguins empoleirados em desesperados pica-paus. Os pés desorientam-se automaticamente e ficam com um pé desmesuradamente grande no ponteiro das 2 horas e o outro pé desmesuradamente grande no ponteiro dos 50 minutos, o andar dez para as duas.
Usei uma vez uns sapatos desses. Estava desesperada por uns sapatos para levar a um casamento porque guardei tudo para a última hora, e as sapatarias pareciam ter-se juntado e conspirado contra mim, ficando inundadas de scarpins. Resignada, acabei por comprar o que me serviu: umas mules pretas com um laço no peito do pé e salto fino, que ficavam escondidas sob umas calças largas, de onde saíam os intermináveis bicos. Senti que calçava uma lancha em cada pé que chegava primeiro do que eu a qualquer lugar.
Acabei por me livrar deles pouco tempo depois. Ainda bem que fiquei com a fotografia que me apanhava da cintura para cima.
Há figuras que não vale a pena recordar.
terça-feira, 31 de março de 2009
Computadores

Através do Google Talk, uma amiga desafiou-me a colocar um post acerca do que pensava dos computadores porque comentei com ela que gostava que executessem exactamente o que estava a pensar. Por estranho que pareça, nunca gostei muito deles. São uma óptima ferramenta, tal como uma batedeira eléctrica ou uma máquina máquina de lavar que nos facilita bastante o trabalho e, neste caso, as comunicações, mas assim que algo corre mal, sinto uma frustração imensa e vontade de o arrastar até à janela e largá-lo. O típico drag and drop.
O meu primeiro contacto com um computador foi muito breve e obscuro, quase como se desse cara a cara com um extra-terrestre. Aliás, na altura fazia-me mais sentido conviver com um alienígena do que com um computador, já que estávamos em plenos anos 80 e o Spielberg fazia sucesso com o ET. Decorreu através do meu primo, que é dois anos mais novo do que eu, e, pelo facto de conseguir manusear aquele aparelho mesmo sem quase saber ler, fazia com que o visse como um sobredotado de inteligência muito superior.
O écran era preto e branco, talvez de um IBM, e gostávamos de jogar um jogo que consistia em calcular e introduzir, à vez, o valor do ângulo certo para atirar uma pixelizada bomba-banana de um pixelizado macaco pendurado num pixelizado prédio para o outro pixelizado macaco pendurado no outro pixelizado prédio. O macaco que caísse primeiro, perdia.
Alguns anos mais tarde uma amiga de infância adquiriu um Spectrum, daqueles que liam através de um leitor de cassetes lento e barulhento. Esperávamos pacientemente que carregasse o jogo, o nosso preferido era uma espécie de golf, os pixéis já eram um pouco mais pequenos e os gráficos mais coloridos. Eu achava que essa minha amiga também era muito inteligente.
Vivi bem sem computadores até muito tarde. Pensava que só os informáticos é que precisavam deles, e para mim o mundo era perfeito com caneta e papel. Até começar a tirar um curso superior que me obrigava a fazer trabalhos inforgráficos. A primeira vez que estive frente-a-frente com um computador à minha inteira disposição senti-me novamente a olhar para um ser de outro planeta. Perante o assombro do professor confrontado com a pergunta, fiquei a saber que o Macintosh quadrado se ligava no interruptor instalado na parte de trás, e assim iniciei a minha aventura pela informática, a espreitar para um monitor quase tão pequeno como um olho-de-boi.
Agora que me habituei, penso que a vida devia ter algumas utilidades como o copy e o paste, para, por exemplo, multiplicar as alegrias, o dinheiro na carteira, ou os cabelos na cabeça de um careca... o undo, para desfazer os erros e deixar tudo como estava antes, o save, para guardar os bons momentos e voltar a eles sempre que quiser, e o quit, para sair de uma situação menos agradável. Penso que seria tudo bem mais fácil se pudéssemos passar os acontecimentos pelo Photoshop, para reparar um farol partido, mudar as cores das paredes, apagar uma ruga ou emagrecer 20 kg.
Era só carregar num botão. Talvez um dia o computador, ou algo que daí degenere, consiga mesmo fazer isso tudo.
Agora, qualquer pessoa tem acesso a um computador, ou até mesmo a vários, e até as gerações anteriores à minha se adaptaram com alguma facilidade.
Afinal, somos todos inteligentes.
domingo, 29 de março de 2009
Final de fim de semana
 A tarde começa a perder a sua luz e, como anfitriã da noite, Vénus prepra-se para receber as outras estrelas e iniciar mais um ritual nocturno.
A tarde começa a perder a sua luz e, como anfitriã da noite, Vénus prepra-se para receber as outras estrelas e iniciar mais um ritual nocturno.O vento sacode as árvores e as roupas dos estendais, voam folhas e sacos de plástico pelo ar, e os estores tremem como se a casa quisesse ir com ele.
Cá dentro, estou deitada no sofá, os meus pés descalços arrefeceram e enrolo-me no calor doce da manta polar que me ofereceram no Natal passado. A morna televisão passa um daqueles filmes que sabem a pastilhas velhas, mas que eu deixo ficar por estar embebida numa perguiça dormente e pastosa... ouço o choro da criança da vizinha do lado, e quase ao mesmo tempo, inicia-se a discussão dos vizinhos de cima, com uma batida de pé, seguida de passos pesados e rápidos, como uma retirada para a outra sala...
há-de voltar para trás e começar a discussão... um... dois... ora aí está, voltou e inicia-se o chorrilho de palavrões, berros e coisas a bater. Há uns tempos que não haviam discussões deste tipo, estão a ficar cada vez mais espaçadas, o que talvez seja bom.
Procuro o comando da televisão e aumento o som... ora bolas, começaram os anúncios. Faço um pouco de zapping e prendo-me numa série que revive os anos 70. Fico a ver, não foi assim há tanto tempo. Lembro-me da forma de como as pessoas se tratavam, do respeito de filhos para pais, do medo do sr. Polícia, das meninas recatadas, do conselho do sr. Prior, da mercearia, dos rapazes a jogar à bola na rua, de um mundo provinciano e puro... o raio da série está bem feita!
Deixo-me continuar entre o meu mundo e aquele, a marinar no ócio hirto de um final de domingo.
sexta-feira, 27 de março de 2009
Borboletas
 No outro dia reparei como gosto de borboletas, quando ao arrumar a minha caixa dos enfeites, vi que grande parte das pregadeiras, peça que uso de vez em quando, representam borboletas. Há quem as ache pirosas, mas eu gosto.
No outro dia reparei como gosto de borboletas, quando ao arrumar a minha caixa dos enfeites, vi que grande parte das pregadeiras, peça que uso de vez em quando, representam borboletas. Há quem as ache pirosas, mas eu gosto. Sempre me impressionaram aquelas borboletas dos coleccionadores, presas nos quadros com alfinetes espetados, cadáveres belos que já não voam. Lembram-me a célebre frase «Viver depressa, morrer novo e deixar um corpo bonito». Não me é uma ideia apelativa, pois espero usar durante bastante tempo esta embalagem onde nasci.
quarta-feira, 25 de março de 2009
A primavera

É oficial: já chegou a primavera. Sim, pode-se dizer que chegou há mais dias, mas para mim foi hoje. O sol, as andorinhas, as árvores vestidas de um verde tenrinho, os campos coloridos a esponja, o cheiro açucarado no ar... tudo isso já tinha chegado no final do inverno.
O que faltava aparecer para oficializar a chegada da primavera, tal como a visita do presidente da república oficializa a inauguração de um monumento, era a minha rinite alérgica, com os seus inseparáveis lenços de papel molhados. Molhados, não da comoção por ver as flores a brotar ou os coelhinhos a procriar, até porque não há coelhinhos fofinhos a saltitar pela cidade fora, mas por ter as células caliciformes do nariz a produzir quantidades industriais de histamina, uma substância protectora da superfície nasal, vulgarmente designada por muco aquoso, ao que parece com a função de aprisionar os microrganismos aéreos no epitélio respiratório.
Em suma, tenho uma batalha no nariz: cílios nasais versus pólen, por causa do sexo das plantas. É como a história de Tróia, com a Helena como árvore, o cavalo é um grão e eu sou o território a defender pelo rei Príamo. A diferença é que eu tenho anti-histamínicos, coisa que os troianos não tinham, e por isso vou vencer.
Se, por um lado, a primavera significa os preliminares do verão, por outro é a lua cheia que me transforma num monstro com os olhos e nariz vermelhos, inchados e doridos. Uma lua cheia que dura até lá para o verão, quando o calor queima os pólenes e torna estaladiças as flores e as árvores.
A primavera é o estado de graça da natureza que eu celebro com a minha humanidade.
Quando me arde o nariz, para mim o centro do mundo é ali e em mais nenhum lugar, o egoísmo que diz que agora não, não me falem da fome, da guerra, da crise, da subida dos preços, do desemprego, da precariedade social, da precariedade moral, da desigualdade, da educação, da saúde, da solidão, dos idosos, dos desabrigados, dos doentes, dos desprotegidos... não me falem em nada disso porque a mim só interessa não sentir que estão a fazer vudu na ponta do meu nariz.
E digo, a bem da verdade, que o que não falta no mundo é gente que não vê mais para além da ponta do seu nariz.
terça-feira, 24 de março de 2009
7 coisas que me fazem sorrir!

Fui contemplada com mais um desafio, pelo Arséne Lupin, desta vez o de nomear 7 coisas que me fazem sorrir, o que para mim é difícil, pois entre o esboço do sorriso e o esgar da gargalhada, muitas vezes a distância esbate-se. Assim, em jeito de meia batota, cá vão as coisas que me fazem sorrir:
- Estar com as pessoas de quem gosto, é aqui que faço batota porque envolve a família e os amigos, miúdos e graúdos... é tão bom!
- Fazer as malas para ir de férias ou de fim-de-semana, e ir...
- Finais de tarde amenas numa esplanada, na praia ou no relvado à sombra das árvores... ou à noite ir ao sushi!
- Sentir-me com um pouco menos de peso. Dependendo da quantidade, eu sorrio, rio, ou entro em histeria;
- Brincar com um gato... ou cão, é rejuvenescedor;
- Fazer um trabalho bem feito, do qual goste;
- Ver, ler ou ouvir uma boa comédia.
Agora teria de passar a 7 bloggers, mas vou continuar a fazer batota e desafiar, quem quiser, a sorrir um pouco.
segunda-feira, 23 de março de 2009
O conforto da rotina

No outro dia, no caminho para o emprego entre a porta do carro e a porta do edifício, pus-me a pensar acerca da rotina, porque não me apercebi de como a semana tinha passado tão depressa.
Sinto algo ambíguo em relação à rotina, se por um lado é confortável por servir como um placebo de segurança, por outro mecaniza-nos de tal forma que nem damos pela vida passar. Quando, por algum motivo, nos apercebemos que passaram anos, muitas vezes nem sabemos muito bem o que fizemos com todo esse tempo. Com certeza que fizemos algo, fizemos coisas, e isso fica assim disperso no ar e no tempo que passou.
Todos os dias passo pelos mesmos sítios, muitas vezes sem me aperceber da quantidade de gente que me acompanha, alheios ao facto de que nos estamos a acompanhar, e nem tampouco iremos saber os nomes dos outros.
Por exemplo, aquela rapariga que costuma passar na ponte às nove menos cinco, de cabelo ruivo curto, com a saia aos retalhos pelos joelhos e casaco de pele, mala ao tiracolo com um grande desenho e sabrinas pretas, tem ar de Catarina. Dependendo do que Catarina quer dizer, para mim é uma rapariga jovial e irreverente, embora todas as Catarina que conheço sejam diferentes de tal figura. Apeteceu-me chamar-lhe Catarina, e só por muita coincidência é que ela se chamará assim.
As pessoas raramente têm a cara do nome que apresentam.
Eu tive uma professora de inglês, alcunhámo-la de Ju-Ju, que passou todo o ano lectivo a chamar-me Teresa. Era uma professora seca e alta, que acentuava a sua altura numas botas castanhas de longo salto grosso e cano subido, cabelo curto e avermelhado com largos caracóis que se confundiam no casaco castanho de pêlo de ovelha, olhando-nos lá do alto, detrás dos seus óculos enormes de massa castanha... «Teresa, would you like to read the text for us about going from Piccadilly Circus to Oxford Street, please?»... só no último dia é que me tratou pelo meu verdadeiro nome. Isto foi no ciclo, como o tempo passou rápido e cheio de pequenas e grandes coisas!
A meio do caminho, quando vou já a pé, reparo mais nas pessoas. Por vezes até sei se vou atrasada, pela parte do percurso onde me cruzo com elas.
Existe uma senhora de idade, loura platinada e habitualmente despenteada, movendo-se com dificuldade num andar tolhido, olhos contornados a negro, com ar de Lurdes, que, se a encontrar antes do semáforo para peões, diz-me, no seu silêncio rotineiro, que já vou ligeiramente atrasada. Se a vejo ao fundo, acelero imediatamente o passo.
Passamos anos e anos, uns pelos outros na rua, sem sequer nos conhecermos.
Quando saía para a hora de almoço, costumava encontrar um velhinho muito curvado, cabelo branco e bigode, que trazia sempre consigo a sua bengala e umas bolinhas de algodão enfiadas no nariz. De certo modo eu achava lógicas as bolinhas, porque o bom do senhor emanava sempre um odor a naftalina. Depois de o deixar de ver durante uns tempos, perguntei a outros por ele, disseram-me que tinha morrido. Nunca conheci o senhor, mas tive pena que tivesse desaparecido. Talvez por acordar por instantes e sair do conforto da rotina, deparando-me com a sua fragilidade, tomei uma decisão: amanhã vou por um caminho novo.
quarta-feira, 18 de março de 2009
O Desafio

Fui desafiada pela AME para abrir um livro na página 161e transcrever para aqui a 5.ª frase inteira que lá encontrasse. O livro eleito foi um presente de um amigo e é da autoria de Isabel Abecassis Empis, Eu Quero Amar, Amar Perdidamente:
«Nestes e noutros casos, este aspecto pervertido da nossa mente serve os ses do passado e os medos do futuro, tirando à pessoa a capacidade de realizar a sua plena vitalidade, o exercício da sua humanidade aqui e agora - único espaço em que a vida, de facto, se passa.»
Agora passo o desafio a 5 bloggers:
Deus e o Homem

Um observador paciente e atento, mas enorme, para estar em todo o lado a espreitar das nuvens como se se debruçasse à janela. Nunca me perguntei onde estava quando não havia nuvens, porque se estava em todo lado, e via tudo o que fazia mesmo que estivesse dentro de casa, as nuvens não haviam de importar.
Diziam-me «os meninos que se portam mal não vão para o céu» ou, dependendo da altura do ano, «o menino Jesus não põe prendas no sapatinho de quem não come a sopa». Eu detestava sopa, não achava sentido nenhum comer um líquido à colher.
Depois comecei a ir à escola e à catequese, e tentei compreender Deus e as coisas que me liam da Bíblia.
Lembro-me dos desenhos coloridos e dos livros de Religião & Moral, onde Cristo aparecia sempre muito bonito e sereno, e de ter pena de o ver pendurado na cruz. É uma história cruel para uma criança.
Havia tantas coisas na Bíblia que eu não compreendia, primeiro tinha de me habituar aos textos em português antigo na 2.ª pessoa do plural, e depois tentar compreender que povos e sítios desconhecidos eram esses para, no final, o que estava escrito significar outras coisas diferentes.
Acho que há coisas que só a vida e o tempo nos ensinam, como uma tela branca que se vai pintando e tornando cada vez mais complexa até perder toda a sua alvura sob as camadas e camadas de tinta.
Enquanto crescia comecei a ter filosofia e história de arte e vi aquele Deus, velho de velho, metamorfosear-se em muitos deuses diferentes, consoante os desejos e políticas do homem, apoiado naquele ciclo do mito e do rito.
Achava graça às representações primitivas e toscas de animais em pedra, e depois a Rá, o Deus-Sol, e ao pretensiosismo à divindade dos faraós. Também achava interessantes os deuses gregos e romanos por terem defeitos tão humanos e virtudes tão fantásticas, cada um com os seus poderes e fraquezas, como os super-heróis de uma banda desenhada.
Compreendi a vantagem de existir um só Deus para a unificação de um povo, mas também percebi que por causa dos deuses o povo se divide. Percebi também que o Buda careca, obeso e sorridente em loiça branca com retoques vermelhos e dourados que a minha mãe tinha sobre um napperon de renda na mesinha de cabeceira significava mais do que uma recordação de viagem.
O conceito de divindade anda sempre de mãos dadas com o conceito de vida para além da vida, céu, inferno e purgatório, reencarnação... gosto particularmente da reencarnação, dizem que reencarnamos em formas de vida mais puras do que as anteriores consoante a aprendizagem com os nossos erros nas vidas passadas. Eu gostava de voltar cá daqui a 500 anos, mas penso que talvez venha na forma de uma barata. Não que as baratas sejam muito puras, mas por serem os únicos habitantes da terra, se não nos preocuparmos com a ecologia e o equilíbrio ambiental.
Anos e anos de reverência ou contestação divina fazem com que Deus exista, seja qual for o nome, nem que seja pelo conceito de divindade. Por isso cheguei à conclusão de que estas coisas da religião não se entendem, mesmo o mais céptico cede à Sua existência nas horas más na esperança de ter a poção mágica. Os santos? São os que, em pequeninos, caíram no caldeirão.
Não sei se é ou não uma criação do homem, se se chama Deus às forças físicas e químicas que se combinam e repelem, ao equilíbrio e à energia que compõe tudo o que existe, ou a uma força interior do homem que acredita mesmo quando não há mais nada para acreditar.
Eu cá acho que é reconfortante pensar que existe algo maior do que nós, que nos torna humildes e iguais, em harmonia.
Algo que nos fez à sua imagem e semelhança.
sexta-feira, 13 de março de 2009
Generation Gap

Ultimamente o tempo tem estado ameno e os primeiros indícios de primavera começam a surgir. Já vi andorinhas a voar sob os campos verdes e amarelos das azedas, em contraste com o céu azul e riscado por um ou outro avião. Ainda hei-de saber porque é que os aviões deixam o céu com efémeras cicatrizes brancas.
Os dias amenos trazem também as noites amenas, o céu claro torna-se negro, parece um manto de veludo cravejado de pequenos e brilhantes diamantes, e a lua confunde-se com um candeeiro de rua redondo e luminoso.
Perdida na contemplação poética do mundo e do universo, no tempo, no que era antes do tempo e no que poderá ser depois do tempo, em toda esta maravilha fascinante que é a vida, e a tal história da dialéctica pé – mão – cérebro, da maravilhosa obra de engenharia que é o corpo humano, geração após geração de inovações tecnológicas que se vão adaptando às necessidades da evolução da espécie e do universo, centro-me em mim e penso como sou darwinista, e como sou mais um ser que se move sob a abóbada de constelações que nos envolve desde a Criação.- Que bela noite! – comenta a minha mãe, inspirando o aroma doce dos tufos de viburno ou, como ela chama, carameleira.
- Até parece uma noite desenhada a computador! - responde a minha sobrinha.
Acordo, ciente da outra realidade com que me deparo.
Que tempos tão diferentes dos meus, que foram diferentes dos meus pais e que foram diferentes dos meus avós... e sinto-me tão velha quanto a lua... porque razão, na cabeça de uma pré-adolescente, o conceito de noite magnífica é este? Uma geração que não estranhou este aparelho, como eu estranhei, mas que já o trouxe nas entranhas, instalado nos genes, uma geração cujos dedos nasceram para as teclas do teclado. Para eles, a perfeição e a ordem vem da dialética homem-computador-tecnologia, e nessa dialética o real pode ser sempre aperfeiçoado, organizado e conquistar o belo, como pequenos deuses.
É uma geração que pensa diferente, mas que vai continuar a ser aperfeiçoada, uns vão construir coisas boas e outros vão fazer coisas más, mas irá continuar o nosso caminho, e daqui a milhares de anos seremos apenas um rasto da nossa passagem, como o rasgo branco do avião.
- Sim -digo eu-, parece realmente uma noite desenhada a computador.
quarta-feira, 11 de março de 2009
Os homens não são só garganta!
 Disseram-me, a meio de uma conversa, que os homens são só garganta.
Disseram-me, a meio de uma conversa, que os homens são só garganta.Não são só garganta, acho que isso é muito redutor!
Também têm outros órgãos à volta igualmente importantes.
Imagino um bando de gargantas na assembleia da república com as suas gravatinhas à volta...
Mau exemplo, vou dar outro: imagino um estádio de futebol cheio de gargantas a berrar desalmadamente para insultar o árbitro, mas sem conseguir articular palavra porque não têm boca, sem cachecol porque não têm mãos para o colocar, mas mesmo que tivessem cachecóis, escorregavam por aí abaixo sem ombros que os segurassem, gargantas que pagaram o bilhete sei lá como, mas que não podem ver nem ouvir o jogo, porque não têm olhos nem ouvidos.
A garganta nem tem direito a ter um médico especialista apenas em garganta, é sempre especialista em garganta, nariz e ouvidos. Quando o médico escolhe o curso que quer tirar, quer ser Oftalmologista - especialista em olhos, Estomatologista - especialista em boca, ou Otorrinolaringologista, que, apesar de parecer uma palavra alemã para um animal em extinção, é um pack económico de 3 órgãos, como as promoções do Continente.
De qualquer modo, a garganta não é somenos importante, tem um filme e tudo. O «Garganta Funda».
Nunca o vi, não sei se é um documentário ou de acção, mas disseram-me que era profundo. Talvez seja até educativo. Há muitos filmes educativos por aí. No outro dia passei pelo Media Markt e vi que estavam lá uma série deles, como o «Estudantes e Ninfomaníacas», suponho que sejam alunas de história a falar das ninfas na mitologia grega. Ainda estive tentada em comprá-lo porque gosto muito de mitologia grega, mas dissera-me que há desses filmes na net. Na net pode-se encontrar muito material educativo, não é só poucas-vergonhas.
Que fique bem claro que o homem não é só garganta. Tem de ter o resto do corpo para segurar o cachecol, o chapéu de adepto cheio de bicos e guizos, a cerveja, a bifana, a bandeira, o rádio, o cigarro... se me disserem que o homem é um polvo, mole e indolente que se arrasta até ao sofá com tentáculos para segurar os amendoins, a cerveja e uma dúzia de comandos ao mesmo tempo enquanto faz zapping na tv, já me convenciam melhor.
terça-feira, 10 de março de 2009
Os espelhos de nós
 Este fim-de-semana estive em mais um jantar de turma da escola primária.
Este fim-de-semana estive em mais um jantar de turma da escola primária.Embora viva actualmente em Lisboa, eu sou da terra e gosto de contactar com o pessoal da minha terra. A gente que me viu crescer, que sabe quem sou e de onde venho, que partilha as mesmas origens e fala a mesma linguagem, os que me dizem adeus na rua.
Lá sinto-me naturalmente protegida por estar em casa, por conhecer todas as ruas, embora já me falhem alguns rostos, as indicações são dadas pelos nomes das casas das pessoas e não pelos nomes das ruas e avenidas, até porque não há avenidas.
Mas a mudança, o progresso, bom ou mau, também ocorre por lá, como no resto do país.
Aqui, na capital, uma cidade cosmopolita, o anonimato é o meu escudo e a minha fraqueza, sou mais uma na massa dos habitantes da Grande Lisboa. Sou mais uma pessoa que não é de cá.
Conheço muito pouca gente cuja família seja mesmo de Lisboa há pelo menos, duas gerações. Parece-me que ser de Lisboa é ser de mais lado nenhum. Para onde é que vão as pessoas de Lisboa no Natal e na Páscoa, quando são mesmo de Lisboa? Ficam cá, sem terra para ir, gente que os reconheça, sem o calor de uma palmada nas costas, dada por alguém de ar patusco, por ser bem-vindo de volta à terra. Sem horas e horas de filas de trânsito para voltar à capital, com a bexiga tão cheia de urina como o porta-bagagens de couves, abóboras e laranjas.
Estava eu a dizer que fui à terra jantar com a malta que andou comigo na escola primária.
Foi mais um jantar com caras conhecidas, sem novidades excepcionais, apenas com a pele mais curtida pelo tempo, mais velhos desde a última vez que nos vimos.
De facto, de toda a minha vida académica, é o grupo mais fácil de juntar porque os contactos vão-se mantendo mais ou menos os mesmos através de nós ou dos nossos pais. Mas é também o grupo onde somos mais distantes, apenas partilhamos as nossas raízes, e isso já aconteceu há muito tempo. O que é normal, na escola primária resumíamo-nos a um grupo homogéneo de crianças que vão aprender a ler e escrever, sem aspirações ainda bem definidas, tão vazias quanto os nossos cadernos no início do ano.
Hoje, há os que saíram da turma para irem com os pais para outras terras, há os que ficaram na terra, os que foram estudar para fora e voltam de vez em quando, e os que foram tentar a sorte noutro país. Há também casais que se formaram no grupo, eu acho-lhes graça por se conhecerem quase desde sempre.
No fundo, conhecemo-nos todos bem e mal. É uma sensação de conforto e desconforto, formam-se grupos, verificam-se os rótulos para ver a composição de cada um. É quase como se abrisse uma gaveta para onde vamos metendo os mais variados objectos indiscriminadamente, sem nunca olhar lá para dentro, e depois vemos que temos um mundo de coisas diferentes que, em comum, só têm o de caber no mesmo compartimento.
Se não ficamos perto de alguém que conhecemos um pouco melhor, há o risco de haver um silêncio desconfortável, aquele silêncio em que não há mesmo nada para dizer, tão mudo que chega a ser ridículo, e se o quebramos é, de certeza, para dizer alguma idiotice.
Perguntamos pelos ausentes, o que se sabe deles, mas há sempre um limite quando as perguntas se fazem aos presentes. Ou porque de uns já se sabe a história, ou porque de outros já se sabe que não querem falar do assunto. Também há os exageradamente faladores e arrependemo-nos de morte de ter perguntado simplesmente «Então, tudo bem?».
Há de tudo, inclusivé a tendência de procurar os traços de infância, recordar pequenas histórias que são sempre lembradas, tal como a de uma colega que ganhou o título de ser a mais destemida da turma depois de, durante uma briga com o rapaz mais violento - e franzino, quando lhe chegava a mostarda ao nariz amarinhava por cima de fosse quem fosse com murros e pontapés-, lhe ter ferrado o dente no rabiosque; ou de quando simulámos um casamento durante o intervalo, em que participou a turma toda, cada qual com o seu papel; ou ainda locais como a laranjeira onde nos pendurávamos para dar cambalhotas -acho que ainda lá está, forte e baixa, suportando as gerações e gerações das crianças da terra que nela se continuam a pendurar-, as escadas do refeitório que eram a nossa nave-mãe espacial, de onde partíamos fingindo ser naves para explorar o espaço com os braços abertos a correr à volta da escola; ou dos primeiros amores, com os inocentes bilhetinhos que trocávamos a dizer «Queres namorar comigo? Sim? Não?», desenhando um quadrado ao lado de cada resposta para ser assinalado com uma cruz e o bilhete devolvido.
No fundo, acho que estes encontros servem também para pensarmos, com os outros, acerca de nós, para recordarmos quem éramos na nossa infância e reflectirmos acerca do que nos tornámos. Foram, no geral, bons tempos. Digo no geral, porque há sempre alguém para quem a infância foi... complexa. Para mim, foi simplesmente, feliz.
segunda-feira, 9 de março de 2009
Parabéns, amiga!
 Não posso deixar de comemorar os 50 anos da figura feminina que se manteve sempre jovem e glamourosa, que se renovou constantemente, que sempre fez tudo o que quis, radical, terna, multifacetada, alvo de polémica e estudos científicos, que me ensinou a desenhar e que foi a minha companheira inseparável de infância. A Barbie, claro.
Não posso deixar de comemorar os 50 anos da figura feminina que se manteve sempre jovem e glamourosa, que se renovou constantemente, que sempre fez tudo o que quis, radical, terna, multifacetada, alvo de polémica e estudos científicos, que me ensinou a desenhar e que foi a minha companheira inseparável de infância. A Barbie, claro.Lembro-me da primeira e única Barbie que tive durante toda a minha infância, de andar a namorar a boneca, que era cara como agora não é, durante os 6 meses do meu aniversário ao Natal, de ir com a minha mãe à loja de brinquedos, que também era a papelaria onde comprava os livros da escola, de a ver na prateleira de cima, ainda inalcançável, uma «Barbie Crystal» loira platinada e de olhos lilás, (sim, lilás, uma cor de olhos que ninguém tem), num justo vestido branco iridescente com folhos na saia, brincos, colar e anel, estola farfalhuda, sapatos transparentes com purpurina e um cabelo loiro penteado como as estrelas de cinema dos anos 50, daquelas que cantam com olhar lânguido e jeito dengoso e que têm por fundo um pianista que toca um negro piano de cauda.
Lembro-me de esperar ansiosamente naquele Natal, pelo do momento em que sabia se ia ter ou não a minha nova boneca, de a ter recebido com enorme alegria, do cheiro a borracha nova, de a ter despido e ver todos os pormenores do seu corpo, o rosto e olhos pintados, o pescoço, o peito, a cintura fina, o sexo ligeiramente marcado, as pernas flexíveis e os pés com buraquinhos na sola.
E depois fomos a casa de uma prima e perdi-lhe um sapato pelo caminho. Despia-a, vestia-a, dei-lhe banho no alguidar, no tanque, no bidé e todos esses lugares eram para mim casas luxuosas e grandes. O vestido ficou velho e desfez-se, os lenços de assoar ou balões cortados eram vestidos de noite, e até os pensos higiénicos Reglex (e se naquele tempo eram grossos) que roubava à minha mãe eram confortáveis camas de palácio.
O que eu gostava na Barbie era o que todos os que não gostam dela criticam: o que a Barbie representava, o estilo de vida, a beleza, as possibilidades de ter muitas vidas, da independência de ir a muitos lugares e de fazer muitas coisas e ser muita gente. O que gostava na Barbie era dos sonhos e fantasias nos quais me projectava, e isso eu não conseguia partilhar com mais ninguém.
Mas também não fez de mim alguém assim tão distante da realidade.
Escovei-lhe o cabelo até ficar quase careca. Arrumei-a por cima do roupeiro quando cresci e deixei de brincar com ela.
Um dia, usei-a num trabalho que fiz para a escola, no 10.º ano. Deixei-a ficar na arrecadação da sala de aula e, quando a fui buscar, vi que lhe tinham arrancado a cabeça e deixaram o corpo. Senti-me traída pelos meus amigos, zangada e revoltada com a maldade, e foi por vergonha que não chorei.
Reagi como se reage sempre que perdemos alguma coisa que temos garantido até que abandona completamente as nossas vidas: um vazio cheio de boas recordações.
quarta-feira, 4 de março de 2009
Amigos com cauda
 Em homenagem aos meus amigos de sempre, os cães Tim-Tim, Tino, Nita, Gorducha Joaquina (Duxa) e Teddy, aos gatos Piolhinho, Gata, Perna-Longa-Pé-de-Salsa, Fofinho, Babeco, Dom Ruca, e a outras dezenas que passaram pelo meu quintal - um dia explico-, e aos que hei-de ter um dia: Garamond e Italic.
Em homenagem aos meus amigos de sempre, os cães Tim-Tim, Tino, Nita, Gorducha Joaquina (Duxa) e Teddy, aos gatos Piolhinho, Gata, Perna-Longa-Pé-de-Salsa, Fofinho, Babeco, Dom Ruca, e a outras dezenas que passaram pelo meu quintal - um dia explico-, e aos que hei-de ter um dia: Garamond e Italic. Brincadeiras de infância
Isto lembra-me o tempo em que gostava de juntar gatos e fita-cola industrial... nenhuma experiência é novidade para mim.
sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009
Como não cortar arame
 Teria eu uns 5 anos e, enquanto a minha mãe recebia os meus tios-avós na sala durante o serão, lembro-me de me distrair com a minha irmã na cozinha, de a ver a fazer colares de arame para pendurar conchas e medalhas, um acessório importante para uma adolescente.
Teria eu uns 5 anos e, enquanto a minha mãe recebia os meus tios-avós na sala durante o serão, lembro-me de me distrair com a minha irmã na cozinha, de a ver a fazer colares de arame para pendurar conchas e medalhas, um acessório importante para uma adolescente.Peguei no rolo de metal e numa tesoura e segui-a até à casa de banho, onde observava, à luz amarela do espelho, o aro em volta do pescoço. Pedi-lhe que me cortasse um pedaço de arame, e ela, distraída, respondeu que o fizesse eu.
Dei uma tesourada no dedo indicador esquerdo e o arame ficou inteiro.
Corri, com lágrimas e sangue, direito à minha mãe que me acudisse. Entre pranto e frustração, penso eu que numa tentativa de acalmar, disse-me o meu tio, debaixo do seu chapéu preto e apoiado na sua bengala de madeira castanha, que as tripas não me iam sair por ali.
Achei uma observação lógica.
Sequei as lágrimas dos olhos, e a minha mãe secou o golpe no dedo, que protegeu com um penso rápido.
Ainda hoje tenho essa cicatriz. Já esteve bem mais nítida, foi-se esbatendo no tempo com os vincos da pele. Uma marca ligeira como as (des)preocupações da infância, da presença de pessoas que já nos deixaram há muito, e a presença dos que ainda nos acompanham.
Por isso, há cicatrizes doces.




